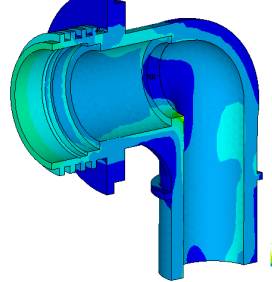Hoje saiu no Caderno Metrópole do Estadão, como se fosse uma matéria, uma carta do Zé. Levamos um susto, pois ele mandou apenas uma... uma...
carta para o Estadão, e quando vimos tínhamos na frente uma matéria de seis colunas, grandalhona, importante.
Hummm.
O texto fala por si, mas é sobre um assunto interessante e importantíssimo. Na verdade, é mais que isso. O que temos que ver nesse assunto é a forma de entendermos a cidade, a forma de entendermos a pobreza e a miséria. Não é segregando. É integrando.
Favelas podem ajudar a desenhar novas cidades
URBANISMO
Sobre o editorial 'O modelo de Heliópolis', publicado no dia 14, o arquiteto José Armenio de Brito Cruz enviou a seguinte carta: 'É positiva a iniciativa deste jornal em pautar este assunto, e por 2 vezes nesta semana, que entendemos como primordial no estudo da situação das nossas cidades. Se enfrentadas seriamente pelo poder público (como defende o editorial), as chamadas habitações subnormais, frutos de ocupações ilegais e consideradas por muitos o problema das nossas cidades, serão o caminho para o desenho de novas cidades, justas, democráticas e pacíficas.
Há 7 anos trabalhamos com e para comunidades das chamadas 'favelas' inclusive em Heliópolis. Como arquitetos, que trabalham e emprestam o conhecimento à formulação de demandas e soluções, entendemos que a postura do poder público frente a estes territórios deve ir além de oferecer o passaporte da chamada 'inclusão' social por meio do assistencialismo ou da viabilização do direito à propriedade.
As situações urgentes e o direito à propriedade devem sim ser atendidos, mas em uma perspectiva do desenho de uma nova cidade. Uma cidade que aprende com as lições de solidariedade destas sociedades (ou comunidades como se queira chamar) e desenha novos espaços, novas densidades e novas relações. A situação vivida nas nossas cidades mostra que é urgente a busca de novos modelos. Exemplos internacionais que pautam a sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente mostram que esta é hoje uma preocupação mundial.
A quebra dos guetos é hoje um paradigma assumido por urbanistas de todo o mundo na construção de uma sociedade menos violenta e mais solidária. O modelo segregacionista que ainda hoje orienta o desenvolvimento das nossas cidades precisa ser rompido. Os exemplos de gestão de desenvolvimentos imobiliários em Vancouver (Canadá), o movimento dos Novos Urbanistas americanos (CNU, EUA) ou a pauta territorial do desenvolvimento responsável da rede Smart Growth atestam a preocupação mundial na mudança de rumo para as políticas públicas de habitação e de desenvolvimento territorial e urbano.
Exemplos como o de Heliópolis em São Paulo, ou de alguns movimentos por moradia, podem construir algo além do que foi engendrado, como por exemplo, no programa Favela Bairro no Rio de Janeiro. A pauta hoje é o rompimento das barreiras que caracterizam a favela como 'não-cidade'.
O desafio hoje é a integração destes territórios à nação. E o risco (dependendo do desenho, da atitude) é o de aprofundarmos ainda mais o abismo social que vivemos. Os ocorridos recentes do Rio atestam isto. A questão é territorial e nacional. A questão não é isolada.
O problema da favela é problema dos bairros de classe média ou das elites. Na ótica do território, a favela é o outro lado da moeda do condomínio fechado, da insegurança nas ruas dos bairros de classe média e do shopping center. Acontece que a moeda é uma só; a sociedade é uma só e precisa encontrar códigos de convivência ou caminhará para uma situação cada vez mais violenta.
Estes códigos passam por desenhos. Por exemplo, o direito à propriedade não é necessariamente o direito a um lote no formato conhecido hoje. Recentemente, o prefeito de Barcelona, em visita a São Paulo (conforme noticiado por este jornal) mencionou ironicamente que lá (em Barcelona) não poderiam se dar ao 'luxo' de planejar com índices de densidades populacionais usados aqui em São Paulo. Não há economia urbana que se viabilize com o grau de horizontalização e conseqüentemente os baixos índices de densidade que vivemos na cidade.
As experiências em Heliópolis atestam que, muitas vezes, os próprios moradores tem esta compreensão tanto para sua moradia quanto para os espaços de convivência coletiva. Ainda assim, o poder público insiste em reproduzir por vezes modelo já ultrapassados de cidade.Outro aspecto, também visto em Heliópolis, é que a organização da demanda, por parte das associações existentes, ultrapassa em muito a capacidade do poder público do seu atendimento. É conhecido o valor retido nos órgãos de financiamento público para habitação. É também sabido que o déficit habitacional empurra grande parcela da população para a ilegalidade. Cumprimentamos novamente este jornal, certos de que se houver diálogo com mais comunidades, organizadas social e politicamente como a de Heliópolis, e se houver disposição para romper o modelo segregacionista que orienta o desenvolvimento das nossas cidades, estaremos construindo um país mais justo a cada dia. Parabéns pelo editorial.'