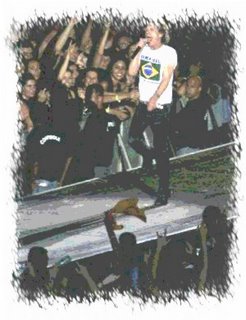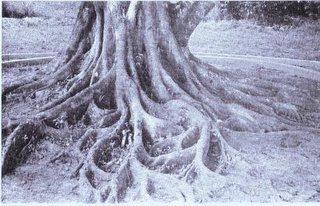Viciei, há algumas semanas, num joguinho de palavras cruzadas japonês de números (epa, acho que o correto seria dizer “números cruzados” e não palavras, uma vez que o jogo não tem letras...) chamado “sudoku”.
Trata-se na verdade de um tipo de quebra cabeças, onde você precisa completar seqüências de números de um a nove, em quadradinhos, em diversas linhas e quadrados horizontais e verticais, sem repetir nenhum número.
Me falaram que é um “febre mundial”, esse tal de "sudoku"
Ai, ai. Lá vou em me perder de novo em mais um modismo. Mas um modismo barato desses acho que não tem problema algum em aderir. Um joguinho sem tomada, sem chip, sem internet.
O tal jogo começou a aparecer nos jornais há uns anos. Demorei muito para entender a lógica da coisa, até que um dia, num vôo de São Paulo - Rio, um engenheiro amigo meu me ensinou. Fiz então muitos jogos errando tudo, até entender como funcionava. Quando tive o "clic", foi o máximo. Fiquei então tão entusiasmada, mas tão entusiasmada, que acabei comprando uma revistinha só de sudokus. Estou carregando essa revista há umas duas semanas, onde eu for. Como se fosse um vício. Uma tara. Uma mania.
A tal revista já foi motivo de piada aqui em casa. Primeiro por causa do nome, que acaba em "ku". Óbvio que os meninos fazem trocadilhos. Além disso, ao longo das páginas, os sudokus vão ficando mais difíceis, como se fosse uma prova, um teste de vestibular ou uma aula de inglês. Os primeiros são nível “fácil I” e “fácil II”, depois vem o “médio I” e o “médio II”, depois o “difícil I” e difícil II” e depois vem o .. “diabólico”. E pior. Depois do “diabólico I” vem o ... “diabólico II”.
Uia.
Tenho arrepios de pensar no “diabólico II”.
Estou no "médio I". E confesso, acho que tenho que treinar muito para ir adiante. Depois do “fácil II”, a coisa tem ficado bem complicada.
Hoje de manhã, no meio dos descanso que faço antes de começar outro jogo, fiquei pensando o que me atrai nesse joguinho. Cheguei a muitas conclusões. A primeira coisa que me veio a cabeça é que o jogo me deixa tranqüila porque sei que todas as respostas estão ali. Fazer esse quebra cabeças com números é diferente de fazer palavras cruzadas, onde temos que descobrir as palavras certas. Eu sou péssima de palavras cruzadas. Péssima é pouco. Sou horrível, ruim, nota zero. Nunca a palavra certa me vem à cabeça.
Sempre fui uma negação em jogos de palavras, como “forca” e “stop”. Já no sudoku não. No sudoku não tenho que lembrar de palavra nenhuma: as respostas são números, e os números vão do um ao nove. Um dois três quatro cinco seis sete oito nove. O problema é somente rearrumar.
Foi quando eu comecei a pensar sobre esse negócio de organizar. Na verdade, eu não gosto apenas do sudoku. O que eu gosto é de arrumar as coisas. Sempre gostei disso, de arrumar, apesar de nem sempre conseguir. A outra coisa que me agrada é seguir à uma regra. Reorganizar. A regra é bem clara, e isso é fácil de entender. É isso tudo junto que me deixa tranqüila nesse jogo: tudo está ali, não há o que inventar ou lembrar, basta colocar do modo correto.
Acho que é assim que eu gosto e preciso ver a minha vida. É como se eu soubesse que tudo que eu preciso para viver bem está na minha frente. Um dois três quatro cinco seis sete oito nove. Não haverão sobressaltos, nem pânicos de me esquecer da palavra certa. Um dois três quatro cinco seis sete oito nove. Ah. Como eu queria que minha vida fosse como um sudoku. Um dois três quatro cinco seis sete oito nove. São apenas nove números, que precisam a toda hora ser colocados nos lugares corretos e pronto. Um dois três quatro cinco seis sete oito nove.Uma hora o jogo acaba.
E nessas metáforas, lá se foi o carnaval. Tomara que na quinta feira eu já tenha passado de fase.
E que me aguarde a fase diabólica.